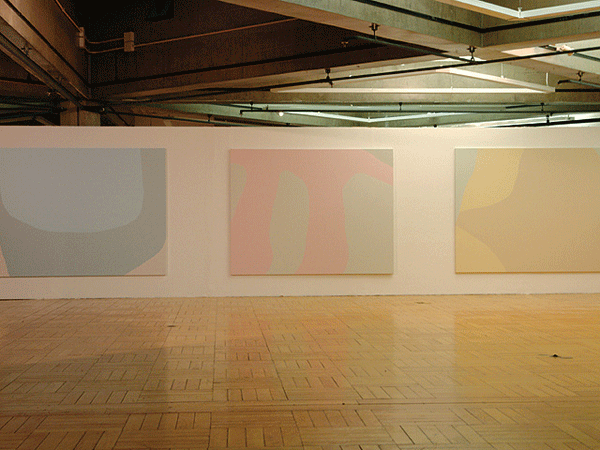Há um quê de dissimulação nas pinturas de Alice Shintani. Se à primeira vista elas parecem animadas por uma beleza suave e desinteressada, como se pretendessem se passar por imagens dóceis ao olhar, uma observação mais detida logo substitui a impressão inicial por uma hesitação. Para além dos tons delicados e das formas vagas, há algo ali que não se deixa apreender. Uma dissonância silenciosa cujos vestígios apenas conseguimos entrever.
Suas pinturas exibem uma espécie de economia. Poucas cores dão corpo a poucas formas que não parecem produto de grande quantidade de matéria ou ação. É como se as telas fossem cobertas por uma tênue camada de tinta, em três ou quatro esmaecidas versões, aplicadas mecanicamente de modo a ocultar vestígios da mão. Mas o que parece escassear mesmo nas obras da artista é qualquer tentativa de afirmação. Não se trata de uma pintura assertiva. Suas telas apresentam-se, antes, como possibilidades – como se a qualquer momento seus arranjos fluidos e algo abatidos pudessem sofrer algum tipo de reconfiguração. É exatamente aí que reside a sua força. Numa despretensão afirmativa que parece respeitar um estado de indagação. Ou numa languidez que é, antes, fruto de uma intensa investigação.
Embora ostentem uma aparência um tanto mecânica, como se produzidas com as mesmas técnicas usadas para pintar um carro ou uma geladeira, as telas de Shintani guardam processos da pintura tradicional. À exceção do material utilizado, tinta de parede, as cores são preparadas no ateliê – o que, em parte, explica a sua estranha ambigüidade – e aplicadas na tela por meio de pincéis, sem qualquer recurso que auxilie a artista a artificializar seus trabalhos, como o uso de máscara, rolo ou aerógrafo. São procedimentos manuais que acabam por forjar um efeito impessoal, ainda que este não se realize completamente. Até mesmo os ensaios da artista, responsáveis pelo acúmulo de camadas e mais camadas de tinta, são dissimulados pela alta porosidade da tela, capaz de absorver boa parte do material depositado. Daí a aparência flat de sua pintura.
O curioso é que, ao invés de reforçar uma superficialidade – como na pintura superflat de Takashi Murakami e de uma boa leva de jovens artistas japoneses surgidos no final dos anos 1990, com quem a produção de Shintani não deixa de flertar –, o achatamento de planos cria um efeito diverso. Dispostas em conjunto, suas telas parecem reivindicar o espaço tridimensional, ao sugerir uma espécie de ambiência, como se a prolongar suas cores e formas. Pois essa sugestão espacial foi levada às últimas conseqüências em um projeto recente, quando a artista cobriu de pintura o chão e as paredes de uma galeria, criando o que se pode chamar de uma instalação pictórica.
Mais uma vez, um contraste entre procedimento e resultado – como na fartura que se apresenta escassa, na feitura artesanal de aparência mecânica ou na intensidade que se reveste de languidez – contribui para gerar a impressão de que há algo, na pintura de Alice Shintani, que não se deixa cercar. Consciente ou não, a opção pelo contraste talvez seja fruto da impossibilidade afirmativa que suas pinturas revelam como que a reiterar o espaço da arte como espaço da dúvida e da indagação.